“O engajamento é uma consequência da realidade em que vivi”, dispara Eliana Alves Cruz

Peço licença à Eliana Alves Cruz para iniciar este texto recorrendo a uma frase que ela mesma usou para explicar o que seria a “literatura militante” de Lima Barreto, escritor brasileiro conhecido pelas fortes críticas que fazia à sociedade carioca do início do século XX. Barreto colocava “a arte para pensar sobre o seu tempo, sobre as questões essenciais da sociedade”. No entanto, agora, ao lançar mão dessas palavras, minha intenção não é apresentar a você, leitor e leitora, a literatura produzida pelo autor de “O triste fim de Policarpo Quaresma”, mas evidenciar o que move a escrita de Eliana, um dos aclamados nomes da literatura negra brasileira do presente.
Antirracismo, feminismo e problemas sociais são temas recorrentes em sua produção. É assim desde que estreou na literatura, em 2015, com “Água de barrela” (Editora Malê), romance que lhe deu o prêmio Oliveira Silveira, da Fundação Palmares. Em apenas sete anos, já são sete livros publicados, incluindo “A vestida” (Editora Malê, 114 páginas), vencedor do Jabuti deste ano, na categoria conto. Aliás, quando esta entrevista foi concedida, na última quinta-feira, o resultado do mais prestigiado prêmio literário do país ainda não havia sido divulgado, mas ela já celebrava a indicação.
“Sinto uma felicidade imensa, é claro. No entanto, sinto-me cumprindo um trato feito, uma palavra pactuada com a minha ancestralidade que é formada pelos meus mais velhos e mais velhas, mas também com os mais novos e mais novas que um dia me terão como sua ancestral”, disparou a escritora, que, neste domingo, está na Flip (Festa Literária de Paraty), onde participa de mesa ao lado do também escritor Carlos Eduardo Pereira.
Hoje, nesta coluna, o assunto é “A vestida”. São 15 narrativas curtas marcadas por “crítica social, referências à ancestralidade africana, pesquisa histórica, ironia, insurgência poética e um cuidado com o enriquecimento humano dos seus personagens”, características da prosa de Eliana, conforme aponta Vagner Amaro, editor da Malê. Além disso, a entrevista também traz reflexões sobre o narcisismo que nos torna insensíveis diante da dor do outro, “democratização do incômodo” e rompimento de silêncios em um mercado editorial ainda restrito para autoras e autores negros.
Marisa Loures – Na orelha do seu livro, Vagner Amaro, Editor da Malê, afirma que, em “A vestida”, você “tinge um rico painel do Brasil de ontem e de hoje, do país que não se move em questões que são centrais para a maioria da população”. E, ao realizar essa tarefa, você “não se desvirtua, em nenhum momento, do que é essencial na sua atuação como escritora de literatura”, que é nos entregar enredos bem elaborados e sedutores. Esse apontamento do Vagner chamou minha atenção, pois já vi escritores e escritoras querendo fugir do rótulo de que faz uma literatura “engajada”, comprometida com o social, como se isso fosse algo que coloca em xeque a qualidade literária de sua produção. Como você vê isso?
Eliana Alves Cruz – O Lima Barreto defendeu uma “literatura militante”. No meu entender, ele não se referia ao abandono da arte em função de levantar esta ou aquela bandeira, mas de colocar a arte para pensar sobre o seu tempo, sobre as questões essenciais da sociedade. Quando começo uma escrita, o que me move é a vontade de contar histórias de vidas ou aspectos da vida que me tocam. O engajamento não é um fim em si mesmo. Ele é um reflexo, uma consequência da realidade em que vivi, vivo e das minhas angústias e desejos em relação ao futuro.
– E como foi o processo de criação dos contos de “A vestida”? Normalmente, de um jeito ou de outro, nossas vivências ficam impressas em tudo o que escrevemos…
– Estes contos são inspirados em recortes de momentos dos últimos 10 anos de Brasil. Ele é um mosaico feito em períodos distintos ao longo desta década em que vimos tantas transformações. Os personagens refletem desencantos, questionamentos profundos, mas também fagulhas de esperanças e liberdades.
– “A vestida” é seu primeiro livro de narrativas curtas, e ele é lançado depois de quatro romances, sendo um deles agraciado com o Prêmio da Fundação Palmares. Por que “A vestida” escolheu nascer em forma de contos?
– Eu sou uma pessoa inquieta, que fica se desafiando o tempo todo. É uma parcela exercício criativo e outra medo de ficar refém de mim mesma, ou seja, ter êxito com uma escrita e cair na tentação de não sair nunca mais desse lugar confortável. Visitar outras formas de contar é também uma forma de me manter conectada e atenta.
– O primeiro conto do seu livro me lembra de uma frase dita por um escritor quando conversávamos sobre o racismo presente no nosso país. “O Brasil não gosta de se ver no espelho”. Narciso, seu personagem, entra em pânico quando se depara com a cidade em ruínas no interior da terra. Uma cidade muito maior do que o “paraíso” em que ele vivia. Ali, escondido, estava tudo o que não queremos ver. É exatamente o retrato do nosso país de hoje? Fingimos não perceber o que nos incomoda justamente para não termos que tomar uma atitude?
– Exatamente. Esta interpretação do mito do Narciso, aquele que se destrói pela adoração da própria imagem, é também uma forma de provocar este tempo do culto tão exacerbado à personalidade, que nos torna insensíveis e cegos ao que está muito evidente e, principalmente, ao que sustenta toda esta aparência.
– Você contou em suas redes sociais que, há quatro anos, quando escreveu uma matéria para o Intercept sobre a morte de Mestre Moa por uma discussão política ocorrida durante as eleições presidenciais de 2018, você foi vítima de ataques racistas. Vi, também, que você comemorou, no dia 30 de outubro deste ano, o resultado das urnas. Sei que estamos longe de nos livrar das sequelas da escravidão, e seria ingenuidade pensar o contrário, mas como você encara esse novo tempo? Como ele se apresenta para você?
– Eu não nutro ilusões. Sei que há muito o que fazer e muito ainda para caminhar. Não enxergo este dia em que estas sequelas serão superadas porque, de um lado, temos quem aja como o Narciso do conto, fingindo não ver, e há quem faça questão de jogar sal nesta ferida. Veja a quantidade de notícias de exaltação ao nazismo em escolas, por gente muito jovem… Mas vejo também uma coisa que chamo de “democratização do incômodo”, ou seja, cada vez mais temos também uma legião de pessoas decididas a não abrir mão de sua cidadania, do direito de ser quem é. Então, o racismo, a homofobia, o machismo, os ódios de classe cada vez mais são apontados, combatidos com firmeza e competência. Essas não são coisas que incomodarão apenas os corpos alvos dos preconceitos, mas também os que originam tudo isso.
– E de que forma sua escrita e a de outras autoras negras vem contribuindo para derrubar obstáculos que se levantam contra mulheres negras em uma sociedade marcada pelo machismo e pelo racismo?
– Acho que nossa contribuição é dar tridimensionalidade, camadas, humanidade, enfim, às nossas personagens e histórias. Estamos deslocando as tramas, narradores, cenários para um espaço menos reducionista do que somos e do que nos formou. Temos uma multiplicidade de experiências negras no Brasil ainda por serem trazidas na literatura. E creio que são autorias que estão ajudando a quem nos lê – seja esta pessoa negra ou não – a colocar uma lente para enxergar nossa realidade que fica difícil de tirar depois. Há obras que nos transformam profundamente. É possível ler, por exemplo, “Quarto de despejo” ou “Olhos d’água” e fechar o livro sem ter sido remexido em algum ponto?
– Já são sete livros publicados num intervalo de sete anos, desde que você estreou com Água de Barrela, livro vencedor do Prêmio da Fundação Palmares. Como você faz para romper os silêncios históricos no mercado editorial brasileiro ainda restrito para os negros?
– Sou uma pessoa que se aventura. Amo profundamente escrever. Então eu crio e vou atrás das portas que se abrem. Nasci para a literatura em função de uma política pública de cultura, que foi o concurso de 2015 da Fundação Cultural Palmares e do Ministério da Cultura. Este foi um tempo em que também se multiplicaram empresas editoriais que apostaram e investiram em nós. Isso, somado a um público sedento e carente de se ver tanto no conteúdo quanto na autoria – um público beneficiado pela Lei de Cotas, por exemplo -, foi abrindo veredas, espaços. Nestes sete anos como autora publicada, todos os dias o Brasil me deu motivos para desistir, mas, paradoxalmente, todos os dias me impulsionava a seguir adiante, pois a quantidade de gente que me escreve declarando amor é um combustível insuperável.
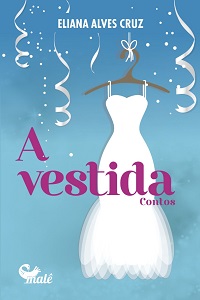
“A vestida”
Autora: Eliana Alves Cruz
Editora Malê (114 páginas)








