“‘Desgaste’ fala do tempo presente, um tempo duro, como tantos outros que a humanidade atravessou”, diz André Luís Câmara

O poeta reside em Santa Teresa. Um dos bairros mais charmosos do Rio. É lá em cima que ele cria seus versos. Enquanto isso, o bondinho passa sobre os trilhos de um lado para o outro. Ele vê a cidade de Machado de Assis, João do Rio e Tim Maia fervendo culturalmente. Ah, que vista tem Santa Teresa! E que privilégio deve ser morar lá! Diz ele que “há passarinhos nas árvores, micos pulando de galho em galho, gambás, tucanos, urubus e até gaviões”. Ele também consegue escutar o apito do navio que nos conduz em “Referências do meu Rio”, um dos poemas, de “Desgaste” (Patuá, 124 páginas). Todavia, de sua casa de vista privilegiada, também ouve, diariamente, os tiros tomando conta das comunidades cariocas. Chora a morte de meninos negros em ações policiais. Clama por descobrir “quem matou Marielle”. Como qualquer morador do Rio, desconfia da água que bebe. Vive em uma cidade onde “Tribunal Militar decide/ soltar soldados que disparam/ oitenta tiros em família”.
Em um cenário tão cheio de contradições, de belezas, mas também de tanta tristeza, há que se entender por que André Luís Câmara escreve “Desgaste”, cujo título traz a ideia de corrosão, abatimento e perda. Um desgaste de afetos, mas também de palavras. Seu novo livro traz memórias não só de sua terra natal, mas também de cidades, como Juiz de Fora, Cataguases e Itabira. “Embora recheado de memórias, ‘Desgaste’ quer falar do tempo presente, um tempo muito duro, como tantos outros que a humanidade atravessou, e que é dilacerante observar, se indignar, se estarrecer. O poema ‘Antes que a noite que se alonga’ me parece que transparece muito essa sensação de querer falar de outra coisa, de procurar uma esperança e se ver completamente sufocado pelos que ‘fecham os olhos à tortura’. Parte da ideia de se enternecer com um momento banal. A pessoa ali, lavando louça e observando passarinhos no jardim. É um instante para procurar fotografar, gravar, dizer num verso. No entanto, é como se essa paisagem se tornasse inútil ou mesmo impossível ‘assim que romperam ataques/ dos que, em nome de Deus, da Pátria/ difamam, agridem quem tenha/ outra versão dos mesmos fatos/ desmantelaram o país/ e contam com gente de bem/ têm apoio dos meus vizinhos/ eu conheço alguns desde a infância,/ preferem investir no horror/ e defendem seus preconceitos’. Esse poema, por exemplo, era para ter sido diferente, ficaria mesmo falando de um momento quase onírico, com passarinhos em árvores, céu azul, música de concerto e coisas assim”, conta André, explicando que algo mais forte e mais urgente o impeliu a tomar novo rumo com sua pena.
“De repente, diante dos acontecimentos, olhei aqueles versos e vi que não dava para me alienar naquela bolha. A extrema-direita está no poder e avança pelo mundo, o racismo prossegue, o feminicídio acontece todos os dias, a LGBTfobia agride, mata, os índios são exterminados, e o falso moralismo no discurso político é muito desalentador. Então, ‘Antes que a noite que se alonga’ nasce dessa necessidade de haver um posicionamento diante desse horror todo que aí está. Um posicionamento de indignação e, ao mesmo tempo, de impotência, é bem verdade. Não tive, no entanto, como ir além disso. E, do mesmo modo, cheguei ao título do livro. Tudo na vida passa, outras alegrias virão, há que se ter esperança. Contudo, não pude fugir a essa sensação de corrosão da qual você fala e ‘Desgaste’ foi um título que surgiu de modo bem doído e procurando traduzir o momento presente”, comenta ele, que é mestre e doutor em Letras pela PUC-Rio e jornalista, com experiência em comunicação empresarial e assessoria de imprensa. André ainda é autor de “Rua sem saída” (Patuá) e, nos últimos dois anos, tem se dedicado a escrever letras de canção. Na coluna de hoje, sinta-se, leitor, convidado a percorrer as palavras sensíveis desse grande poeta. E vamos torcer, com ele, para que “essa sensação de desgaste seja passageira.”
Marisa Loures – Quem é André Luis Câmara? A partir de quando foi impossível resistir ao ofício de poeta?
André Luís Câmara – Ainda na adolescência, pensei na possibilidade de publicar um livro de poemas, depois isso ficou meio de lado. Fui fazer jornalismo, comecei a trabalhar com comunicação institucional. E me afastei da possibilidade de diálogo com o que então se publicava de poesia, revistas que iam aparecendo e com as quais eu não me identificava. Talvez tenha me mantido, por diversas questões, muito preso a uma ideia ou a um modelo de modernismo.No entanto, a falta de interlocução com outros poetas fez com que em mim ficasse deslocada essa vontade de escrever, de falar, de conversar sobre poesia, literatura, sem saber ao certo para quem ou para quê. Agora, sempre houve uma tentativa de sair atrás da poesia, embora eu escrevesse para a gaveta. Em 2004, comecei a publicar poemas em blogs que fui criando (tive quatro blogs), e fazia textos mais próximos da crônica. Sempre gostei muito de crônica, de autores como Rubem Braga, Clarice Lispector, Paulo Mendes Campos. Ao mesmo tempo, fiz mestrado e doutorado em Letras, na PUC-Rio, e quase ninguém sabia que eu fazia poemas, que tinha pretensões literárias, nem mesmo meu orientador. Aconteceu então que o tempo passou, meus filhos ficaram crescidos (Camila está com 26 anos e Pedro faz 25 nesta terça-feira, 11 de agosto), a vida continuou com seus altos e baixos, depois de separações, frustrações e muitas alegrias. De repente, em 2017, aos 52 anos de idade, mestre e doutor em Letras, com 30 anos de experiência em comunicação, novamente casado e com três enteados, eu estava sem perspectivas de emprego ou de um trabalho mais duradouro. Não muito diferente do que me acontece hoje, com a situação agravada por essa pandemia tão triste. Resolvi retomar o projeto do meu livro de poemas, ao qual, vinte anos antes, eu tinha dado o título de “Rua sem saída”. Revi muitos versos, fiz novos, cortei e acrescentei coisas. Encaminhei os originais à Patuá, por se tratar de uma editora que vinha lançando muitos autores desconhecidos, com tiragens pequenas e sem cobrar pela publicação. Em maio de 2018, o editor Eduardo Lacerda me disse que publicaria meu livro. E assim, dois meses depois, “Rua sem saída” foi lançado. A partir daí, comecei a conhecer outros autores. E uma coisa bem especial foi o interesse que o livro despertou em quem fazia canções e me procurou para me encomendar letras ou musicar meus poemas. É ainda uma atividade bem no início, e que me anima muito. Tenho esperanças de que, em 2021, essas canções venham a ser mostradas. Com o Leonardo Almeida Filho, também poeta, romancista e artista plástico, que mora em Brasília, tenho já seis canções prontas. Andrea Chakur, cantora e compositora paulista, deve gravar, em breve, uma canção nossa que adoro. E com Teresa Inês, musicista que há muitos anos reside nos Estados Unidos, fiz uma outra canção e estou aguardando uma valsa que ela prometeu terminar para eu letrar. Ricardo Moreno de Melo, músico e professor, fez um frevo para um poema que está em “Rua sem saída” e me pediu para acrescentar novos versos. Sempre quis fazer canções. Antes dos poemas, eu fazia canções com um colega de escola, gravávamos fitas-cassete que se perderam, se partiram. Nada que tivesse muito valor musical ou literário, eu tinha dez anos. Depois, aos 18 anos de idade, fiz alguns sambas com o Tércio Borges, músico que há muitos anos vive em Lisboa, e tem feito muito pela divulgação do samba e do choro em Portugal. Ele incluiu dois sambas nossos num disco independente que gravou na Dinamarca, em meados da década de 1980. Então, tantos anos depois, meu primeiro livro me trouxe essa possibilidade de retomar o contato com aquilo que sempre quis fazer: canções. E agora apareceu “Desgaste”, um livro preparado ao longo de um ano e meio e que traz poemas que chegaram a ser divulgados, de 2019 a 2020, em publicações voltadas para a literatura, como Mallarmargens, Ruído Manifesto, InComunidade (editada no Porto, em Portugal) e, mais recentemente, Literatura e Fechadura. “Rua sem saída”, embora tivesse poemas recentes, era mais um apanhado de versos que eu guardara ao longo de décadas. “Desgaste”, por sua vez, é um livro quase todo pensado e estruturado para ser publicado em pouco tempo.
– Como nascem seus poemas?
– Acontece de modo bastante variado. Pode surgir de uma ideia a partir de um livro, de um filme, de uma música, de uma fotografia, de uma cena que vejo na rua, uma frase que ouço alguém dizer. Pode vir de um texto que estou escrevendo e de repente aparece outro. Quando comecei a imaginar o livro que veio a ser o “Desgaste”, abri um arquivo no computador para colocar ali ideias que poderiam resultar em poemas. Usei pouco esse recurso, pelo menos dois poemas do livro foram feitos a partir desse arquivo. Como muita gente, é muito comum ter ideias para um poema nas primeiras horas do dia, ao escovar os dentes ou tomar banho. Não é grande novidade falar da relação entre a água e a criação, isso já foi bastante usado. Pensando nisso, depois de entregar o livro à editora, fui investigar essa relação e peguei o “A água e os sonhos”, do Bachelard. E queria juntar a ele o livro do Sidarta Ribeiro, “O oráculo da noite”. Uma tentativa de estudar e falar do sonho, da possibilidade e da necessidade, da urgência de sonhar. Acontece que essa pandemia e essa quarentena não me impulsionam muito a produzir. Queria muito dar conta de leituras, de projetos, e não consigo. Pelo menos, desde que terminei o “Desgaste”, fiz alguns poemas. Queria tentar ir além nessa ideia de pesquisar o sonho, a água, a criação. Pode ser que ainda apareça algum projeto nesse sentido.
– “Desgaste” reúne poemas que falam de memórias do Rio e de outras localidades, como Juiz de Fora e Itabira. Rio é a sua cidade natal. Você tem relação com essas outras cidades?
– Minha relação com Itabira vem unicamente da minha ligação com a poesia do Drummond. Jamais estive lá e em mim também dói aquele retrato de Itabira na parede. Você me perguntou como nascem meus poemas, pois o poema que fala de Drummond, “Badaladas de Itabira”, apareceu quando vi, no Facebook, o José Miguel Wisnik tocar o sino na Igreja Matriz da cidade. Imediatamente pensei no ensaio dele sobre Drummond, que adorei ler, e no poema do Drummond que o próprio Wisnik musicou, “Anoitecer”. Juiz de Fora eu demorei a saber que era a terra do Murilo Mendes, um poeta que amo. No meu livro anterior, há um poema, “Desejo amarrado” em que digo: “Durante a noite vem um silêncio, um frio/ e me lembro do ‘Mapa’, de Murilo Mendes”. “Mapa” é um dos poemas dele de que mais gosto, e me lembro que é um dos que Otto Maria Carpeaux, na “História da literatura ocidental”, considera dos mais fortes e enigmáticos da língua portuguesa. E hoje sei também que Juiz de Fora é a cidade do Edimilson de Almeida Pereira, sem dúvida um dos grandes poetas brasileiros contemporâneos, e que tive o privilégio de ver falar na Festa Literária Internacional de Paraty, a Flip, três anos atrás. Lá também estava a poeta e tradutora Prisca Agustoni, professora da Universidade Federal de Juiz de Fora, esposa do Edimilson. Agora, Juiz de Fora eu conheci na infância e voltei outras poucas vezes à cidade, onde moravam parentes da minha mãe. E, depois, travei contato com pessoas que moram ou moraram na cidade e são ligadas à área de literatura. Professores, pesquisadores, escritores, músicos, como André Monteiro, Daniela Aragão e André Capilé. Este, aliás, foi quem primeiro me falou de Edimilson Almeida Pereira, é certamente um dos grandes estudiosos de sua obra, além de ser ele próprio um dos poetas contemporâneos em evidência. Por Juiz de Fora já passou também Leo Ribeiro, cineasta de animação, natural de São João del-Rei, e grande amigo, que foi meu vizinho no Rio.
– Em 2018, você publicou seu primeiro livro de poemas e, nos últimos tempos, tem se dedicado a fazer letras de canção. O que, hoje, mais o satisfaz?
– Olha, nos últimos meses, fiz alguns poemas que me levam a pensar num novo livro para daqui a dois anos. Vamos ver. Ainda é o tempo de “Desgaste”, quero muito saber, nos próximos meses, que impressões os leitores têm do livro. No momento está sendo vendido unicamente no site da Editora Patuá. Quanto às canções, adoraria receber mais melodias para colocar letra. Nessa quarentena, estamos, por enquanto, vivendo um dia após o outro. Não tenho planos muito nítidos no momento. Sempre adorei caminhar pela cidade. Muito do que escrevi, do que planejei, e até mesmo sonhei, veio de perambulações pelas ruas do Rio e de outras cidades. Não sei dirigir, nunca tive carteira de motorista. Maria, minha companheira, é quem dirige e tem carro, vou de carona. Desde que iniciamos a quarentena, isso aconteceu poucas vezes, e sempre com o uso de máscara. Estar confinado, sem passear com o cachorro, como fazia diariamente, sem ir até ali na esquina tomar um ar, sem poder encontrar um amigo ao acaso e ficar de papo, sem poder me deixar levar pelo espetáculo da rua, isso é quase enlouquecedor. Agora, escrever livros ou fazer canções para mim são atividades complementares, ambas me animam, ambas me agradam inteiramente, uma não invalida ou se sobrepõe à outra, pelo contrário. Quero acreditar que, depois da pandemia, virão novos livros e novas canções.
– E as letras de canção exigem de você outra postura? Outro olhar?
– Fazer um poema pode obedecer a determinados critérios, como seguir certa métrica ou uma rima ou não rimar nada, ou fazer rimas internas ou fazer um poema que se aproxime da prosa, um poema que se pareça com uma crônica ou com um ensaio. A letra sempre vai ter que se prender à melodia, se casar com ela, se entrelaçar. Uma sílaba para cada nota. Claro, há a possibilidade de um poema ser musicado. “Cacaso”, poema no qual homenageio o grande poeta e letrista, e que faz parte de Desgaste, foi musicado pelo Leonardo Almeida Filho, logo depois que ele viu a leitura que fiz num vídeo. Também há a possibilidade de um letrista fazer versos para o parceiro colocar a música. Wally Salomão, pelo que já ouvi contarem, sempre fazia os versos para serem musicados por Macalé, Caetano e tantos outros. No meu caso, prefiro colocar a letra sobre a melodia.
– Juiz de Fora está presente em “Pedacim de trem”, escrito à memória de Messias dos Santos, o Mestre Messias. No poema, alguns versos dizem que “mesmo que dele não se fale”, “você há de se envolver/ com suas modas de viola”. Acho importante falar para os leitores da coluna quem foi Messias dos Santos e qual a relação dele com a terra de Murilo Mendes. E por que “Pedacim de trem?
– Eu conheci Messias, já sendo chamado de Mestre Messias, quando me mudei para Santa Teresa, bairro onde ele também morava no Rio e onde costumava se apresentar em alguns bares, vez por outra. Usava um chapéu colorido, que ele mesmo pintara, sempre acompanhado de seu cigarro de palha, em geral vestido com um paletó. Além de músico e compositor, era artista plástico, fazia pinturas a óleo e ria quando o chamavam de primitivista ou naif. Certa vez, eu estava bebendo com ele no bar Simplesmente, junto com outros amigos. Já era tarde e, em dado momento, ele se referiu ao tempo em que morava em Copacabana, na Rua Souza Lima, com sua esposa na época. E disse o nome dela. Foi então que eu reconheci que estava diante do Messias que havia sido casado com a tia de um colega meu de colégio, quando eu tinha 11 anos. Eu me lembrava de ter ido a esse apartamento na Rua Souza Lima, com meu amigo de infância, Kléber, sobrinho dele, me lembrava bem dele escutando disco numa vitrola e recebendo a visita de um amigo também músico. Contei isso a ele, que se emocionou. Encontrávamos-nos bastante, pelas ruas do bairro, em geral no Bar do Gomez. Messias foi criado na zona rural de Minas, próximo a Cataguases. O pai era da folia de reis e tocava sanfona em bailes. Depois que o pai morreu, ele foi viver em Cataguases e, pouco antes dos 20 anos, foi servir o exército em Juiz de Fora, onde passou a tocar na banda de música do quartel. Era o ano de 1960 e Messias logo se enturmou com músicos da cidade, convivendo inclusive com a futura e famosa compositora Sueli Costa. Em Juiz de Fora se tornou parceiro de um compositor chamado Eugênio Malta e passou a ser uma figura conhecida dos bares e dos bailes onde tocava, como violonista e percussionista. Convivia com muitos estudantes, participando intensamente de atividades culturais e políticas da cidade. Até que, em 1966, se mudou para o Rio, onde viveu pelo resto da vida, tendo passado uma temporada em Boa Esperança, na região serrana do Rio. É possível encontrar no YouTube dois documentários sobre ele: “Delicadamente nobre”, de Cecília Lang, e “O Bonde do céu”, de Márcia Gomes de Oliveira e Norbert Suchanek. Pouco antes de morrer, em 2011, deixou gravado seu único disco, um CD produzido por Micha El Thuhu, com a participação de diversos instrumentistas. Certa vez, no Bar do Gomez, ele me disse que tinha muita vontade de voltar a Cataguases e queria pintar um quadro que retrataria o trem chegando àquela cidade. E disse também que o nome do quadro estava escolhido, seria “Pedacinho de trem”. E logo completou: “Pedacinho não, vai ser pedacim, fica mais mineiro”. E riu. Dias depois, me contou que tinha pintado o quadro. Fiz o poema a partir dessa lembrança.
– Em “Referências do meu Rio”, um poema “longo, longo, meio aflitivo”, o apito do navio leva-nos a percorrer uma cidade de cultura efervescente. Contemplamos a beleza da cidade de João do Rio, Tim Maia e Machado de Assis e de inúmeras outras boas referências. Mas também deparamo-nos com uma cidade em que “desconfio da água que bebo”. Uma cidade onde “Tribunal Militar decide/ soltar soldados que disparam/ oitenta tiros em família”. Como o poeta se sente nessa terra de contradições?
– Amo muito o Rio, sempre adorei viver nesta cidade, embora isso também seja desolador quando se vê tanta miséria, tanta injustiça, tanta violência. Sou mais do que privilegiado, moro confortavelmente numa casa agradável, no bairro onde, desde muito jovem, tinha vontade de morar. Há quem chame Santa Teresa de o bairro mais mineiro do Rio. Há quem veja aqui muito da parte mais antiga de Lisboa. E há os que apontam locais onde o bairro faz lembrar recantos de Paris. Além de tudo, temos ainda diariamente o bonde sobre os trilhos, embora somente uma única linha esteja em atividade depois que houve um terrível acidente, dez anos atrás, quando o motorneiro e mais alguns passageiros morreram. Da varanda de casa, vemos e escutamos o bonde passar, indo e voltando. É como um filme. E ainda há passarinhos nas árvores, micos pulando de galho em galho, gambás, tucanos, urubus e até gaviões. No entanto, mesmo na quarentena, há tiros. Às vezes, acordamos com tiros, mais ou menos intensos, dependendo do dia, e barulho de helicóptero sobrevoando as favelas. De tempos para cá, houve uma trégua, embora tiroteios nunca cessem inteiramente. Sem falar no treinamento diário do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), aqueles tiros constantes, que nem dá para prestar atenção. Porque, se você for ficar reparando, é de dar nos nervos, como se o alvo fossem nossos ouvidos. O Rio tem as praias, as montanhas e gente que está passando fome, e tem essas mortes de crianças negras em ações desproporcionais e inexplicáveis da polícia. E tem ainda a disputa de territórios por traficantes e por milicianos. O Mirante do Rato Molhado, que cito no fim do poema, fica bem perto de onde moro. É um lugar belíssimo, uma das mais estonteantes vistas da cidade. E olhando aquela beleza a gente se pergunta por que tanta violência, tanta injustiça, tanto ódio na cidade. Um dia, me dei conta de que, apesar de falar do Rio em alguns poemas, queria me referir mais diretamente à minha relação com a cidade. Então me lembrei de um poema feito quando eu tinha uns 18 anos. Eu o reli num dos meus antigos cadernos e concluí que tinha que partir para outra coisa inteiramente diferente. Daí me lembrei da Maria, minha companheira, me chamando a atenção para o apito do navio que, vez por outra, ouvimos aqui de casa, e como isso dava a ela a sensação boa de se sentir numa cidade portuária. E o poema foi nascendo assim.
– “Pouco importa em meu verso o realismo,/ confissões ou os dramas do meu ser,/ deixo à publicidade, ao jornalismo/ toda a verdade que pareçam ter,”. Esses são versos de “Panqueca patética”. Embora, em “Desgaste”, você não esteja comprometido com o real, preferindo deixar a verdade por conta do jornalismo, vejo muita verdade ali. E vejo você fazendo jornalismo em textos, como “Em Ipanema, ao meio-dia”. O olhar aguçado para os fatos, típico dos jornalistas, influencia seu fazer poético?
– É inevitável pensar que o jornalismo influencie meu modo de escrever e até minha maneira de ver as coisas. Meu pai não era jornalista, trabalhou durante 25 anos no setor administrativo do Jornal do Brasil. Primeiro, como atendente no balcão de reclamações, aos 20 anos de idade, até se tornar gerente e chegar ao cargo de chefe da Administração da Redação. Saiu do JB em 1983. Eu, então com 18 anos de idade, tinha o sonho pouco firme de ir morar em Diamantina ou Mariana e cursar Letras. Ele ria e me chamava de “O Bardo das montanhas”. Desisti de Letras, desisti de Minas e fui tentar o jornalismo. Jamais me tornei o repórter que talvez ele sonhasse ver em mim, nunca apaguei inteiramente o sonho de morar em Minas, nunca me livrei do meu namoro com Letras. Hoje moro no bairro que alguns consideram o mais mineiro do Rio, sou mestre e doutor em Letras pela PUC-Rio e acabo de lançar meu segundo livro de poemas. Um poema que falasse dele tinha que, de algum modo, deixar transparecer essa influência do jornalismo. Meu pai teve uma morte trágica, numa sexta-feira, na hora do almoço. Foi atropelado em plena rua Prudente de Morais, quase em frente ao Teatro Ipanema, em 2006. “Em Ipanema, ao meio-dia”, fala das lembranças daquele momento tão terrível e percorre recordações da minha infância no bairro. Foi talvez, até hoje, o poema mais difícil que escrevi. Como tantos poemas do livro, ele teve diversas versões, oito ou nove. Da primeira vez, eu parava de escrever e ia ao banheiro chorar. Chorava muito ainda nas primeiras leituras, até que ele virou realmente um poema e pode agora ser notado como jornalismo, com um olhar aguçado para os fatos, típico dos jornalistas, tal qual você mesma observa. Fico comovido e grato a você, Marisa, por ter esse olhar para minha poesia e especificamente para esse poema.
“Quarentena” faz referência aos “milhões de pessoas sem vez,/ sem casa nessa quarentena”. São “tempos de tristeza imensa”. Consegue enxergar um mundo melhor para depois desse período sombrio? O que aprendemos com ele?
– Foi o último poema a entrar. Na verdade, o livro já estava indo para a diagramação, quando, no fim de março, eu disse que tinha mais um poema que gostaria que fosse incluído. A Editora Patuá foi muito parceira, mais uma vez. Se a ideia de um desgaste era anterior à pandemia, à quarentena, quando isso começou a se tornar realidade diária, me pareceu urgente incluir um poema a respeito no livro. Eu não tenho grandes ilusões de que o mundo vá melhorar. No Brasil, diante de mais de cem mil mortes devido à covid-19 – e isso com dados oficiais, é provável que sejam bem mais – não há como acreditar que diante desse descaso todo, das ações da extrema-direita contra os direitos humanos, contra a cidadania, o genocídio de negros e índios, não vejo como enxergar um mundo melhor. Conseguiremos, claro, aqui e ali respirar, fazer acontecer, seguir adiante, como em toda a história da humanidade. Algumas lives, que tanto sucesso têm feito, mostram bem que temos e teremos possibilidades de encontrar brechas, de inovar, de resistir. E, sempre que der, é preciso manter o humor, rir é fundamental. Lembrando de Vinícius, “alegria é a melhor coisa que existe”. No entanto, são grandes os sinais de que o mundo anda adoecido, e não é de hoje. Eu não vou lançar aqui manifestos pessimistas, catastróficos, até porque a catástrofe já está mais do que presente na vida de todos nós. Também não vou adoçar as palavras, ficar imaginando que tantas mortes, tanto retrocesso, tanto descalabro poderão nos conduzir a uma espécie de “mundo maravilhoso de Disney” e que as pessoas passarão a se respeitar e a se amar mais. Não vejo como. Tomara que eu esteja enganado e que essa sensação de desgaste seja passageira.
Sala de Leitura: Toda sexta-feira, às 11h35, na Rádio CBN Juiz de Fora (FM 91,30)
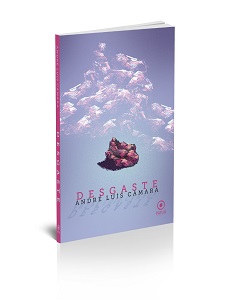
“Desgaste”
Autor: André Luís Câmara
Editora: Patuá (124 páginas)
Onde adquirir o livro:
- no site da editora Patuá
“Quarentena”
Por André Luís Câmara
Quase nunca assisto à TV,
até pensei que hoje iria,
seria bom, quem sabe, um filme,
daí que, com um livro à mão,
desviei sem querer os olhos,
andorinhas em bando sobre
a árvore da casa vizinha
onde micos vão galho em galho,
piano na sala, esqueci
por muitos minutos, talvez:
milhões de pessoas sem vez
sem casa nessa quarentena,
a gente se apega a um doce,
uma notícia, palavra
cruzada assim essas tolices
que no silêncio se inventa,
nunca se disse tanto: cuide-se,
plano esquecido na gaveta,
diversões de uma lembrança,
jogar i ching, jogar runas,
que tempos de tristeza imensa.








